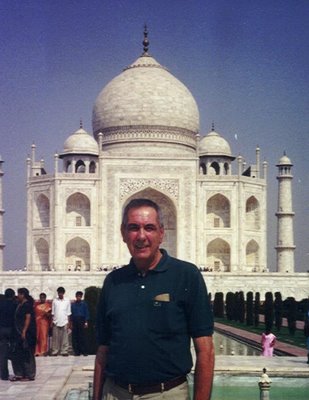Lembranças XVIIA saída do Zè Migalhas para convalescença, deixou um certo vazio não só na enfermaria do Galrinho como em todo o serviço. Já nos tínhamos habituado às cenas diárias da recuperação do Zé, e às discussões acaloradas dos companheiros de infortúnio, quanto à evolução das medidas a serem adoptadas para tal fim. Toda a gente queria dar palpites e forçar o Zé a experimentar os seus métodos.
Mas esta nostalgia não durou muito, outra fonte de agitação brotou.
Alguns dias depois da saída do Zé, numa manhã de segunda feira chuvosa, estávamos em Fevereiro, quando ia dar início ao trabalho na enfermaria, apareceu um soldado à porta gritando. Meu furriel o nosso sargento António pede para ir ao gabinete dele. Diz-lhe que já vou. Ele pediu para não se demorar, advertiu ele.
Contrariado, mas como ordens são ordens, lá fui ao gabinete. Ainda ia no corredor e já a voz do Galrinho o fazia anunciar, entremeando algumas gargalhadas, falava sem parar. O que se estará a passar para a esta hora estarem todos no gabinete do António? Pensei. Ou é alguma chatice ou então…? A curiosidade fez-me apressar o passo.
Quando cheguei, parei à porta do gabinete surpreendido com o que vi. O sargento, o Victor e o Galrinho, desfaziam-se em salamaleques e sorrisos, gesticulando como se as palavras não fossem suficientes. No centro destas tão efusivas atenções, estavam três raparigas que se esforçavam por corresponder a tal demonstração de simpatia.
Mandou-me chamar?, perguntei, no limiar da porta, dirigindo-me ao sargento. Mandei, quero apresentar as novas enfermeiras que vão auxiliar-vos. A razão de todo aquele alarido estava à frente dos meus olhos. Enquanto esboçava um sorriso fiz voar um olhar de reconhecimento sobre elas, que entretanto se tinham voltado para a porta, para verem quem era o novo espécime que tinha chegado. Não deviam nada à mãe Natureza em beleza, mas também não eram de todo desengraçadas, especialmente uma, onde o meu olhar poisou e demorou. Com ar desenvolto, alta, cabelos negros e compridos, com um toque de elegância e um olhar a tocar o sensual. As outras nem tanto conseguiam sobressair da vulgaridade.
Augusto, apresento-te a menina Aida a menina Manuela e a menina Isabel, a tal do cabelo comprido e ar desenvolto. Meninas este é o nosso furriel que toma conta das enfermarias um e dois. Muito prazer, cumprimentei, estendendo a mão depois de entrar.
O nosso director achou que um toque feminino no serviço seria bom para levantar o moral, gracejou o Victor. As flores ficam sempre bem em qualquer lugar, não poupou nos gracejos o Galrinho e eu desajeitadamente completei os cumprimentos. Talvez agora possamos almoçar mais cedo.
As senhoras enfermeiras, começou o sargento para por um pouco de cobro no marialvismo que já se adivinhava, vão ser distribuídas pelo serviço, uma fica a trabalhar com o Augusto, outra com o Galrinho e outra ficará encarregue da sala de tratamentos, onde não temos nenhum enfermeiro.
Conhecendo bem os meus camaradas, em especial o Galrinho, antes que o sargento acabasse o discurso, com uma desenvoltura que não era em mim muito habitual nestas circunstâncias, abeirei-me da Isabel e perguntei-lhe. Tem experiência em tratar feridos?
Alguma, fiz diversas vezes serviço no Banco do São José. Ok, aqui é um pouco diferente, mas com o tempo habitua-se, e sem mais nem menos, decidi, a Isabel vai trabalhar comigo. Tem bata? Tenho. Então depois de a vestir vá ter comigo à enfermaria número um. Meu sargento, é preciso mais alguma coisa? Mas que pressa, respondeu ele. Já estou muito atrasado. Encerrei a questão saindo do gabinete.
No corredor senti-me um pouco incrédulo com a minha atitude, pois não era o meu género ser normalmente tão desenvolto, isso era mais do uso e abuso do Galrinho. Mas estava contente por lhe ter passado a perna desta vez. A Isabel era sem dúvida a mais jeitosa.
Ao entrar na enfermaria, a agitação era grande, um porta voz efusivamente anunciou. Ficámos com a melhor, Augusto. As notícias corriam céleres no hospital.
Pois ficámos, mas isso deve-se cá ao je está bem? Não quero broncas, nem palavrões na enfermaria, vamos todos recebe-la direitinhos. Com tudo direitinho mesmo? Voltava o porta voz. Sorri e avisei. Vê lá se é preciso tomares um duche frio.
Minutos depois apareceu a Isabel, que na sua bata branca parecia ainda mais alta. Com um sorriso entrou dando os bons dias. Após uns segundos de apreciação, a malta respondeu em coro, bons dias senhora enfermeira. Em nome de toda a enfermaria, comecei eu, damos-lhe as boas vindas, esperando que venha a sentir bem no nosso serviço. Uma presença feminina, continuei, é um bálsamo para as nossa almas, especialmente se for tão simpática como a menina. Nem queria acreditar, estava mesmo a ser um segundo Galrinho.
Sem saber muito bem como dar seguimento a esta minha inesperada faceta de galanteador, resolvi que o melhor era começar imediatamente a trabalhar, não fosse ainda sair alguma bronca.
Este é o cama um. Foi ferido em combate por um estilhaço de morteiro. Sofreu um factura exposta do fémur com perda de tecido ósseo e muscular. Estamos a fazer o tratamento da ferida para repor o tecido muscular para depois poder ser operado. Como o doente tinha chegado ainda não havia uma semana, a ferida tinha muito mau aspecto, sendo possível ver o osso do fémur fracturado.
Quando tirei a ligadura e retirei o penso, ela esboçou um trejeito de repulsa, franzindo os olhos. Está como muito mau aspecto, opinou. Não é o médico que vem fazer o tratamento nestes casos? Claro que não, isto aqui é trabalho para os enfermeiros. Mas nos hospitais onde trabalhei… Isto aqui é diferente dos hospitais onde trabalhou, atalhei, os ferimentos também são diferentes. Sabe o que é um morteiro?, não sabe. É uma coisa cujos estilhaços provocam ferimentos dez vezes piores do que um atropelamento. As feridas além de grandes, ganham sempre grandes infecções. Não temos médicos que cheguem para tudo, é bem possível que algum do nosso trabalho seja nos hospitais civis feito por médicos, mas aqui não, somos nós que fazemos. Mas a responsabilidade, e se alguma coisa corre mal? Voltou a argumentar. A responsabilidade é do exército, mas o empenhamento para que nada corra mal é nosso. Claro que se nos enrascarmos, contamos sempre com os médicos do serviço.
Isabel, posso tratá-la assim? Ela consentiu com um sorriso. Isto é outro mundo para o qual existem outras regras, mas com o tempo vai se habituar. A propósito, já fez alguma sutura? Não. Então está na hora de começar a aprender a fazer. Novo trejeito.
Continuámos a saltar de cama em cama, até que ela me perguntou. Sabe que horas são? Olhei para o relógio e disse são duas da tarde. Não almoçam? Pergunta angustiada. Claro que almoçamos lá para as quatro horas quando acabarmos a próxima enfermaria. Ela olhou para mim com um ar incrédulo e possivelmente esfomeado. Se está com fome posso pedir um pouco de casqueiro com manteiga, para enganar a barriga. Casqueiro? Não sabe o que é? Não. É o melhor pão do mundo, informei com o ênfase da convicção.
Senhora enfermeira quer uma bolachinha, ofereceram quatro doentes ao mesmo tempo, aos quais não fugia pitada da nossa conversa. Um obrigado, foi ilustrado com um sorriso, e dirigiu-se aos quatro aceitando uma bolacha de cada um. Temos mulher pensei eu.
Para a rapaziada fechada, alguns deles já há muitos meses, uma presença feminina era a melhor terapia. Era a namorada desejada, e se ela o sabia, melhor desempenhou o seu papel. Bem hajas Isabel e todas as outras mulheres, que emprestaram um pouco de si para minorar o desalento daquela juventude, onde quer que hoje se encontrem.