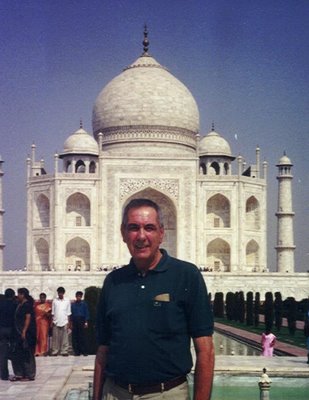Lembranças XV
A guerra encerra em si dramas que pela sua dimensão minimizam a própria morte. É o caso do ferido que tinha chegado paraplégico da Guiné e ocupava a cama 5 da enfermaria 2. Um rapaz atleticamente bem constituído, amante e bem sucedido no desporto, bem parecido, cabo do Regimento de Paraquedistas.
A sua lesão da coluna situava-se ao nível das primeiras cervicais o que lhe paralisou o corpo limitando-lhe o movimento dos braços, ficando dependente de terceiros para se alimentar. A tristeza nos seus olhos, e o silêncio a que se acometera eram a demonstração do seu inconformismo e desespero perante a crueldade do destino.
Nós tínhamos soldados para nos auxiliarem na higiene pessoal dos doentes impossibilitados de a fazer e ministrarem as refeições aos que não tinham condições para comerem sozinhos. Claro que estes soldados que estavam de passagem, por vezes nem um mês permaneciam no serviço, não tinham a sensibilidade necessária para lidar com as situações mais difíceis, tocando muitas vezes a grosseria, pensavam somente na hora de se verem livres de tudo aquilo.
Fiquei tão impressionado com o cama 5, um jovem privado de toda a sua juventude, que passei eu próprio a fazer-lhe a higiene diária, que não era fácil num corpo adormecido, e dar-lhe as refeições. Procurava suavizar-lhe o seu sofrimento interior, fazendo tudo com a maior naturalidade, como se o que lhe estava a fazer, fosse o serviço normal de rotina para a generalidade dos doentes da enfermaria. Enquanto lhe dava a comida com uma colher, conversava com ele ininterruptamente de todos os assuntos desde o futebol ao cinema, das enfermeiras do bloco operatório, do tempo, da praia, tudo era assunto para a conversa, como se ele não estivesse na situação em que se encontrava, procurando sempre a sua interlocução.
Numa das vezes em que estava a dar-lhe de comer uma sopa, ouviu-se uma grande algazarra no corredor, provocada por três outros paraquedistas que o vinham visitar.
Ergueu a cabeça ligeiramente de lado para apurar o ouvido e ao reconhecer os amigos, fixou os olhos na porta da enfermaria, cheios de novo de brilho, revestiu o semblante com um sorriso e aguardou a sua chegada.
Ao vê-los entrar com aquela euforia própria da idade, a cama 5 estava mesmo de frente para a porta, sorriu para eles e gritou qualquer grito de saudação conhecido entre eles, ao qual os outros responderam entusiasticamente.
Existem coisas que nós mesmo sem as sabermos explicar as compreendemos. O doente procurava falar com os companheiros o mais à vontade possível, e à pergunta destes de onde estava ferido, respondeu que tinha sido atingido nas costas, mas sem mencionar o local nem a gravidade. Os amigos não faziam a menor ideia do seu estado e ele também não queria demonstrá-lo.
Quando ia pegar na colher para lhe dar a sopa, senti a mão dele segurar a minha, e compreendendo o significado do gesto, deixei dissimuladamente que ele pegasse na colher depois de a ter enchido.
Não querendo mostrar aos amigos a situação em que se encontrava, a dependência de terceiros para comer, tentou levar sozinho a colher à boca. Toda a enfermaria, que conhecia o seu estado, ficou de respiração suspensa a olhar para ele. Num primeiro impulso, após agarrar a colher, conseguiu mover o antebraço levantando a colher e em seguida tentou levantar o braço para a levar à boca, mas este movimento ficou parado no tempo a meio do percurso, travando-se então uma luta de vida ou de morte entre a vontade e a possibilidade.
Com o braço semi levantado, o esforço da vontade foi tão grande e angustiante que nos segundos que durou, o suor aflorou abundantemente às temperas, o sofrimento do esforço estampou-se-lhe no rosto e as lágrimas da frustração começaram a escorrer-lhe pelo rosto.
Depois, dá-se o impossível, pela última vez, não sei como, num gesto derradeiro de raiva, consegue mover o braço e atirar com a colher pela enfermaria fora indo parar ao pé da porta. Fecha os olhos, deixa descair a cabeça, e assim ficou durante os cinco meses seguintes definhando dia a dia até morrer.
Tudo fizemos desesperadamente durante cinco meses para lhe restaurar o ânimo, mas tudo foi em vão, ele resolvera morrer.
O nosso tempo de serviço foi passando, com uns dias que nos pareciam mais longos do que outros, e a nossa mobilização para irmos para a guerra nunca mais chegava. Procuramos saber o que se passava, pois já por duas vezes estivéramos nos primeiros lugares da lista de mobilização e nada tinha acontecido. Instado, o sargento mor enfermeiro informou-nos que possivelmente nunca iríamos para a guerra, pois o director do hospital exigia que não fossemos mobilizados, tinha muita falta de pessoal e nós éramos considerados uns enfermeiros indispensáveis no hospital. Só com um ano de serviço fomos promovidos a furriéis (primeiro grau dos sargentos) o que acontecia pela primeira vez no exército português, normalmente os cabos milicianos só eram promovidos a furriéis quando embarcavam para o ultramar ou tinham completado 18 meses de serviço.
Uma vez por mês, os feridos recebiam a visita do Movimento Nacional Feminino. O movimento era formado por senhoras da mais alta sociedade portuguesa, que uma vez por mês substituíam o seu chá das cinco, por uma visita guiada pelo secretário do Ministro do Exército aos combatentes feridos, levando-lhes a sua solidariedade que consistia em duas ou três revistas e dois pacotes de bolachas, e hipocritamente anotavam as necessidades apresentadas pelos doentes, como se a resolução dessas necessidades fosse o principal empenho das suas vidas.
Era uma feira de vaidades, vestidas como se fossem para uma importante recepção, a competição feminina tem destas coisas, não deixar fugir uma oportunidade para exibir as toilletes. Caminhavam em passo cadenciado e apressado, pois o tempo disponível era cronometrado, e com gestos standarizados e precisos, tipo ritual, abeiravam-se dos doentes aquém perguntavam igualmente a mesma coisa. Como se chama?, onde foi ferido?, qual o seu ferimento?, está a ser bem tratado?, precisa de alguma coisa?. Findo o interrogatório entregavam um saco com as revistas e as bolachas, e em coro despediam-se. As suas melhoras.
À volta delas o secretário do Ministro do Exército e mais um ou dois oficiais de patente inferior, desfaziam-se em ridículos salamaleques e vénias, bem como o director do hospital, sempre aflito com alguma coisa que corresse mal durante a visita.
Mas nada corria mal, as enfermarias estavam impecavelmente limpas, os doentes de pijama lavado, barbeados e penteados, um ou outro cujo aspecto dos ferimentos pudesse incomodar as senhoras, ficava escondido por um biombo.
À saída da enfermaria o director dirigia-se a nós, mas ao invés do horroroso tratamento por tu, dizia num tom afável, muito bem senhor enfermeiro. Nas enfermarias do Galrinho a visita atingia o máximo do clímax, pois ele ia ao Jardim da Estrela mais um ou dois soldados e roubavam todas as flores que podiam para enfeitar a enfermaria. As madames deliravam. Em fim, coisas de um governo que fazia de tudo para encobrir a verdade da realidade.
A sua lesão da coluna situava-se ao nível das primeiras cervicais o que lhe paralisou o corpo limitando-lhe o movimento dos braços, ficando dependente de terceiros para se alimentar. A tristeza nos seus olhos, e o silêncio a que se acometera eram a demonstração do seu inconformismo e desespero perante a crueldade do destino.
Nós tínhamos soldados para nos auxiliarem na higiene pessoal dos doentes impossibilitados de a fazer e ministrarem as refeições aos que não tinham condições para comerem sozinhos. Claro que estes soldados que estavam de passagem, por vezes nem um mês permaneciam no serviço, não tinham a sensibilidade necessária para lidar com as situações mais difíceis, tocando muitas vezes a grosseria, pensavam somente na hora de se verem livres de tudo aquilo.
Fiquei tão impressionado com o cama 5, um jovem privado de toda a sua juventude, que passei eu próprio a fazer-lhe a higiene diária, que não era fácil num corpo adormecido, e dar-lhe as refeições. Procurava suavizar-lhe o seu sofrimento interior, fazendo tudo com a maior naturalidade, como se o que lhe estava a fazer, fosse o serviço normal de rotina para a generalidade dos doentes da enfermaria. Enquanto lhe dava a comida com uma colher, conversava com ele ininterruptamente de todos os assuntos desde o futebol ao cinema, das enfermeiras do bloco operatório, do tempo, da praia, tudo era assunto para a conversa, como se ele não estivesse na situação em que se encontrava, procurando sempre a sua interlocução.
Numa das vezes em que estava a dar-lhe de comer uma sopa, ouviu-se uma grande algazarra no corredor, provocada por três outros paraquedistas que o vinham visitar.
Ergueu a cabeça ligeiramente de lado para apurar o ouvido e ao reconhecer os amigos, fixou os olhos na porta da enfermaria, cheios de novo de brilho, revestiu o semblante com um sorriso e aguardou a sua chegada.
Ao vê-los entrar com aquela euforia própria da idade, a cama 5 estava mesmo de frente para a porta, sorriu para eles e gritou qualquer grito de saudação conhecido entre eles, ao qual os outros responderam entusiasticamente.
Existem coisas que nós mesmo sem as sabermos explicar as compreendemos. O doente procurava falar com os companheiros o mais à vontade possível, e à pergunta destes de onde estava ferido, respondeu que tinha sido atingido nas costas, mas sem mencionar o local nem a gravidade. Os amigos não faziam a menor ideia do seu estado e ele também não queria demonstrá-lo.
Quando ia pegar na colher para lhe dar a sopa, senti a mão dele segurar a minha, e compreendendo o significado do gesto, deixei dissimuladamente que ele pegasse na colher depois de a ter enchido.
Não querendo mostrar aos amigos a situação em que se encontrava, a dependência de terceiros para comer, tentou levar sozinho a colher à boca. Toda a enfermaria, que conhecia o seu estado, ficou de respiração suspensa a olhar para ele. Num primeiro impulso, após agarrar a colher, conseguiu mover o antebraço levantando a colher e em seguida tentou levantar o braço para a levar à boca, mas este movimento ficou parado no tempo a meio do percurso, travando-se então uma luta de vida ou de morte entre a vontade e a possibilidade.
Com o braço semi levantado, o esforço da vontade foi tão grande e angustiante que nos segundos que durou, o suor aflorou abundantemente às temperas, o sofrimento do esforço estampou-se-lhe no rosto e as lágrimas da frustração começaram a escorrer-lhe pelo rosto.
Depois, dá-se o impossível, pela última vez, não sei como, num gesto derradeiro de raiva, consegue mover o braço e atirar com a colher pela enfermaria fora indo parar ao pé da porta. Fecha os olhos, deixa descair a cabeça, e assim ficou durante os cinco meses seguintes definhando dia a dia até morrer.
Tudo fizemos desesperadamente durante cinco meses para lhe restaurar o ânimo, mas tudo foi em vão, ele resolvera morrer.
O nosso tempo de serviço foi passando, com uns dias que nos pareciam mais longos do que outros, e a nossa mobilização para irmos para a guerra nunca mais chegava. Procuramos saber o que se passava, pois já por duas vezes estivéramos nos primeiros lugares da lista de mobilização e nada tinha acontecido. Instado, o sargento mor enfermeiro informou-nos que possivelmente nunca iríamos para a guerra, pois o director do hospital exigia que não fossemos mobilizados, tinha muita falta de pessoal e nós éramos considerados uns enfermeiros indispensáveis no hospital. Só com um ano de serviço fomos promovidos a furriéis (primeiro grau dos sargentos) o que acontecia pela primeira vez no exército português, normalmente os cabos milicianos só eram promovidos a furriéis quando embarcavam para o ultramar ou tinham completado 18 meses de serviço.
Uma vez por mês, os feridos recebiam a visita do Movimento Nacional Feminino. O movimento era formado por senhoras da mais alta sociedade portuguesa, que uma vez por mês substituíam o seu chá das cinco, por uma visita guiada pelo secretário do Ministro do Exército aos combatentes feridos, levando-lhes a sua solidariedade que consistia em duas ou três revistas e dois pacotes de bolachas, e hipocritamente anotavam as necessidades apresentadas pelos doentes, como se a resolução dessas necessidades fosse o principal empenho das suas vidas.
Era uma feira de vaidades, vestidas como se fossem para uma importante recepção, a competição feminina tem destas coisas, não deixar fugir uma oportunidade para exibir as toilletes. Caminhavam em passo cadenciado e apressado, pois o tempo disponível era cronometrado, e com gestos standarizados e precisos, tipo ritual, abeiravam-se dos doentes aquém perguntavam igualmente a mesma coisa. Como se chama?, onde foi ferido?, qual o seu ferimento?, está a ser bem tratado?, precisa de alguma coisa?. Findo o interrogatório entregavam um saco com as revistas e as bolachas, e em coro despediam-se. As suas melhoras.
À volta delas o secretário do Ministro do Exército e mais um ou dois oficiais de patente inferior, desfaziam-se em ridículos salamaleques e vénias, bem como o director do hospital, sempre aflito com alguma coisa que corresse mal durante a visita.
Mas nada corria mal, as enfermarias estavam impecavelmente limpas, os doentes de pijama lavado, barbeados e penteados, um ou outro cujo aspecto dos ferimentos pudesse incomodar as senhoras, ficava escondido por um biombo.
À saída da enfermaria o director dirigia-se a nós, mas ao invés do horroroso tratamento por tu, dizia num tom afável, muito bem senhor enfermeiro. Nas enfermarias do Galrinho a visita atingia o máximo do clímax, pois ele ia ao Jardim da Estrela mais um ou dois soldados e roubavam todas as flores que podiam para enfeitar a enfermaria. As madames deliravam. Em fim, coisas de um governo que fazia de tudo para encobrir a verdade da realidade.